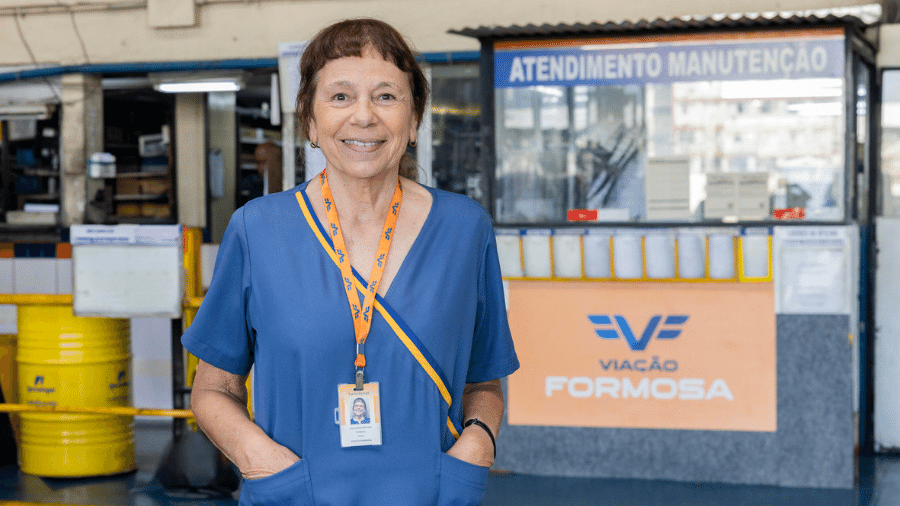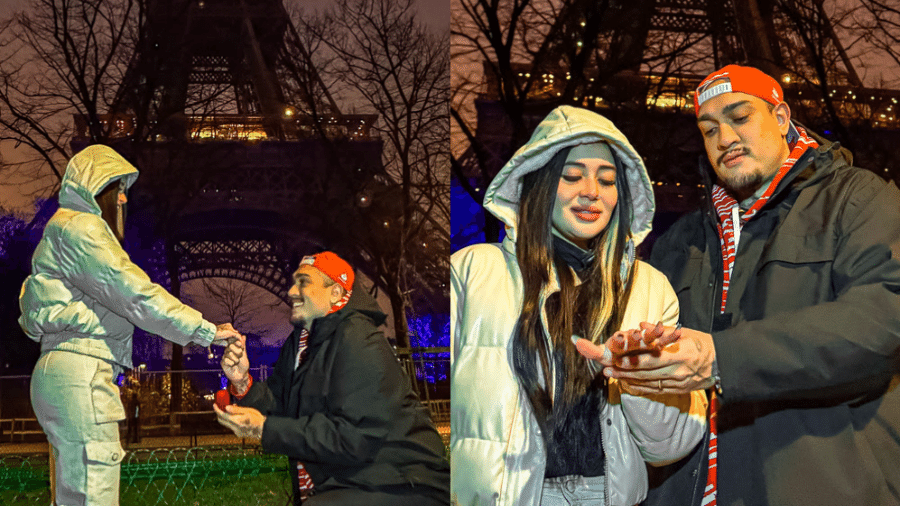Opinião: A voz do subalternizado e a festa do racismo brasileiro

Uma semana após ter estado no epicentro de uma polêmica que ganhou repercussão internacional envolvendo o racismo, uma das maiores referências do mundo da moda, a revista Vogue, anuncia o adiamento de seu tradicional baile anual de Carnaval.
O pivô da controvérsia, como se sabe, foi o fato de sua então diretora de estilo, Donata Meirelles, ter feito uma suntuosa comemoração de seus 50 anos no Palácio da Aclamação, em Salvador, ambientando a festa no que foi interpretado como o contexto colonial escravista. Entre as personalidades e demais convidados estavam o governador da Bahia, Rui Costa, a primeira-dama, Aline Peixoto, o prefeito de Salvador, ACM Neto, além de Regina Casé, Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Na festa, mulheres negras, trajadas com roupas semelhantes àquelas usadas por escravizadas, faziam a recepção dos convidados e posavam de pé para fotos ao lado da anfitriã e de convidados, sentados numa cadeira que parecia um trono. Esta imagem-signo, carregada de significados, foi a que mais circulou nas redes sociais, acompanhada da referência a Donata como "sinhá".
Contra esta acusação central, a socialite publicou em sua conta de Instagram um texto em que se defende, alegando que a cadeira não era de sinhá, mas de candomblé; e que as roupas eram de baianas e não de mucamas. Em suas palavras:
"Ontem comemorei meus 50 anos em Salvador, cidade de meu marido e que tanto amo. Não era uma festa temática. Como era sexta-feira, e a festa foi na Bahia, muitos convidados e o receptivo estavam de branco, como reza a tradição. Mas vale também esclarecer: nas fotos publicadas, a cadeira não era uma cadeira de Sinhá, e sim de candomblé, e as roupas não eram de mucama, mas trajes de baiana de festa. Ainda assim, se causamos uma impressão diferente dessa, peço desculpas. Respeito a Bahia, sua cultura e suas tradições, assim como as baianas, que são Patrimônio Imaterial desta terra que também considero minha e que recebem com tanto carinho os visitantes no aeroporto, nas ruas e nas festas. Mas, como dizia Juscelino, com erro não há compromisso e, como diz o samba, perdão foi feito para pedir".
Como era de se esperar, para uma violência simbólica dessa monta, as desculpas não poderiam ser aceitas tão facilmente e, rapidamente, a enxurrada de reações se fez nas mídias sociais. Isso transformou o fato em notícia, levando-o aos principais meios de comunicação do país e até do exterior.
No mesmo dia, a influenciadora digital negra Lívia Zarut foi certeira em um vídeo divulgado em seu canal no Youtube. "Eu não aceito os seus pedidos de desculpas", disse. E acrescentou que Donata deveria perder o emprego para quem sabe assim "a socialite aprender a virar gente". O que acabou acontecendo antes de o fato completar uma semana, por iniciativa da própria executiva.

A festa é um ritual, está repleta de signos (elementos prenhes de significados). Mais ainda, os seus registros imagéticos (fotos e filmes). Tudo isso possui uma dimensão de comunicação altamente relevante, o que é atestado pela rápida difusão nas mídias sociais. E, como tal, sujeito a interpretações, instaurando a polêmica. Donata parece ter desprezado, no seu pedido de desculpas, que não é o emissor da mensagem que tem o poder de construir e controlar o seu significado. Mas isso se dá na interação dos múltiplos sujeitos envolvidos no processo, desde os participantes do ritual até aqueles que irão ver as imagens, com o próprio contexto no qual a mensagem é veiculada. Ademais, neste caso específico, não estamos diante de uma mensagem qualquer. Seus elementos são bem claros: uma festa da elite branca em que participantes negros têm seus registros imagéticos associados ao terrível passado escravagista, ainda que sob a alegação de ter sido algo involuntário e, pretensamente, com outra intenção. Essa relação se torna ainda mais forte com os elementos do texto da resposta de Donata. Especial destaque para a aparentemente inocente frase em que menciona as baianas que, segundo ela, "recebem com tanto carinho os visitantes no aeroporto, nas ruas e nas festas". Imagem bem forte que evoca uma posição subalternizada, muito comum em filmes que retratam contextos colonialistas.
Por isso, a emenda não poderia sair pior do que o soneto. A essa escusa, a escritora, jornalista e pesquisadora negra Bianca Santana, reagiu no site da revista Cult. A estratégia argumentativa de Bianca é cortante. Ela abre a sua tribuna esclarecendo que em torno de bancos simples de madeira ou de imponentes cadeiras de vime, que constituem os tronos das mães de santo, foram estruturadas famílias que ofereceram proteção espiritual e articularam táticas materiais para preservar a memória ancestral. Lança à Donata as seguintes indagações: "Demonstrar-se racista é parte de uma estratégia consciente por visibilidade? Ou é tão insuportável conviver com pessoas pretas em posições diversas, que vale encenar, em 2019, uma alegoria do Brasil colônia escravocrata?". E conclui o seu texto de forma aguda: "A reação ao absurdo desta imagem é um aviso. Nosso trono de vime não será usurpado. E exigimos assento em outros espaços também". A palavra alegoria nesse argumento assume importância cabal: indica a abertura para a compreensão sobre o reconhecimento da possível ausência de intenção explícita; mas deixa claro que há uma responsabilidade na reprodução desse racismo sistêmico, que está inconsciente para parcela da sociedade brasileira e segue sendo um forte elemento de afirmação da supremacia branca com a exclusão dos milhões de afrodescendentes dos mecanismos de participação sociopolítica no Brasil. E isso não pode ser desconsiderado ao se reproduzir cenários como o que foi encenado este ritual de aniversário.

O antropólogo e intelectual negro Osmundo Pinho foi igualmente contundente em uma postagem na sua página do Facebook: "As inacreditáveis pessoas que defendem a socialite argumentando que o encenado ali foi apenas a tradição baiana, parecem não perceber que justamente essa tradição é escravocrata, transforma a negritude em cenário, pano de fundo, acessórios de decoração, gravitando em torno da branquidade, e ainda reivindicam antirracismo. Ou acaba a baianidade ou não acaba o racismo". Osmundo é autor de uma importante pesquisa, que, ainda nos anos 1990, desconstruiu a ideia de Bahia, definida por ele como "uma concepção disseminada por diversos agentes sociais e onipresente nas afirmações do senso comum em Salvador, que se apresenta como uma rede de sentido indefinida e abrangente capaz de interpretar e constituir de determinada forma a auto-representação dos baianos".
Uma das postagens que mais repercutiu foi a da cantora Elza Soares que ressignificou a imagem-signo (epicentro da polêmica). E junto com uma foto em que aparece sentada numa semelhante cadeira de vime, rodeada por pessoas negras e brancas trajadas de forma irônica, publicou um texto penetrante em seu perfil no Instagram. Nele, remonta sua história de bisneta de escravizada e neta de escravizada forra, e faz menção às feridas provocadas em sua alma pela brutalidade racista. Feridas, aponta ela, que deixaram cicatrizes que não se curaram e que "são cutucadas para mantê-las abertas demonstrando que 'lugar de preto é nessa Senzala moderna', disfarçada, à espreita, como se vigiasse nosso povo". Faz então um desabafo. "Hoje li sobre mais uma 'cutucada' na ferida aberta do Brasil Colônia". E conclui de forma ácida: "A carne mais barata do mercado FOI a carne negra e agora NÃO é mais. Gritaremos isso pra quem não compreendeu ainda. Escravizar, nem de brincadeira. Seguimos em luta".
Todas essas reações remetem ao pensamento do intelectual negro Paul Gilroy, quando afirma que "as culturas dos nativos, não apenas o seu trabalho, podem agora ser compradas e vendidas como mercadorias. As suas realizações exóticas são veneradas e exibidas (embora nem sempre como arte autêntica) e os frutos da alteridade alcançaram um valor imediato, mesmo quando a companhia das pessoas que os colheram não é em si mesma desejada". Sim, a cultura dos "nativos", esse outro interno que os negros e indígenas representaram na formação tanto da antropologia brasileira quanto da sociedade nacional, são hoje commodities à disposição de parcelas da elite branca que a consomem de forma festiva. Elas fecham os olhos para nosso apartheid social e racial. Pouco se incomodam com a exclusão racial, com o fato de virtualmente não verem negros nos espaços de poder e prestígio por onde circulam. Preservam seu monopólio e desejam do negro o carinho receptivo, mesmo que fake, como o das "baianas" nos aeroportos, nos restaurantes do Pelourinho, nas suas festas.

Curioso notar que o vocábulo outro foi mobilizado por Ivete Sangalo, em show no sábado,09 de fevereiro, que marcou a continuidade da festa. Mas como um sentido ao mesmo tempo pueril e patético. Antes de iniciar a sua apresentação a cantora fez o seguinte pronunciamento: "Precisamos compreender a aflição do outro e a dor do outro, por isso estou aqui hoje com todo meu amor e meu carinho para você. Esse é o nosso exercício: pensar no outro, para que pensem na gente, da mesma maneira que temos que pensar no outro. Independente de que situação seja, é preciso pensar no outro e compreender". O outro que mereceu a sua solidariedade não é o produtor de uma cultura vigorosa, da qual a cantora se apropria sem nada, ou muito pouco, oferecer em reciprocidade. Não é sujeito que sofreu na pele a violência do sistema colonial escravista e ainda hoje luta contra a persistência do racismo. Sua compreensão vai para a sinhá!
Para Donata, a sua intenção não foi a interpretada pelos seus críticos. Porém, ela cometeu o erro mais básico que se pode cometer em processos de comunicação: desprezou o contexto socio-histórico que emoldura tanto a festa em si, como a sua intepretação, nas mídias sociais. Faltou-lhe, como a muitos brasileiros, o conhecimento profundo do que significou (e ainda continua significando) sermos herdeiros de uma sociedade escravocrata das mais violentas que a modernidade produziu. Uma sociedade cindida por, de um lado, a atual população negra espalhada pelo Brasil, diretamente descendente de homens e mulheres escravizados, forçados ao exílio e submetidos às mais cruéis condições de existência; do outro, os descendentes de não escravizados que receberam de herança o lugar dos algozes dessa ignomínia. Ignorou ainda o fato de que esta herança está impregnada muito fundo em nossa cultura, fazendo com que muitos de nós tenham uma cicatriz de torturador impressa na alma, pronta a explodir na brutalidade racista e classista, como já denunciava Darcy Ribeiro. Este aspecto foi bem sintetizado pela antropóloga e historiadora Lília Schwarz, que em uma entrevista afirmou: "Não se pode passar imune, nem impunemente, pelo fato de sermos o último país do mundo moderno a abolir a escravidão" (pelo menos, aquela promovida pelo Estado).
Há, no entanto, uma lição importante que toda essa controvérsia nos ensina. O aprendizado remete a uma interrogação levantada por Gayatri Spivak, crítica literária indiana radicada nos Estados Unidos e uma das representantes dos chamados estudos pós-coloniais. À sua pergunta "Pode o subalterno falar?", as relações raciais no Brasil contemporâneo autorizam ao menos um relativo otimismo. Como tentamos argumentar nesse texto, ativistas, intelectuais e artistas negros e negras falaram. As mídias sociais amplificaram esta voz, tornando-a uma resposta imediata e certeira. Ela então se alastrou num eco de protesto que reverberou globalmente. Estes sujeitos subalternizados falaram em alto e bom som, como em uma poesia publicada pelo antropólogo Ari Lima em sua página no Facebook. Todo o poema, mas destacamos aqui as três estrofes finais, são uma rajada de palavras no racismo e naqueles que com ele dançam:
Que tiro foi esse
Um tiro de morte, pior que chicote
Que driblou a sorte de outros irmãos
Perplexos na sala de jantar
Enquanto madame posava na cadeira de arruar
Que tiro foi esse
Orquestrado num baile de mascarados
Animado por um mulato ilustrado
Aplaudido por doutores e mucamas do litoral
Que anunciavam Momo e o Carnaval
Que tiro foi esse
Sob o encanto da Roma Negra
Morada sublime
Feita sua própria presa
Feito a cama, feito a mesa pra todo inimigo pintar e bordar
Esse subalternizado que falou, que não pode mais ser silenciado, foi ouvido. Isso fica evidente na declaração da própria revista Vogue. Esta, diante da repercussão da encenação racista, uma ameaça à reputação da marca, divulgou a seguinte nota de esclarecimento via redes sociais.
"Em relação às manifestações referentes à festa de 50 anos de Donata Meirelles, a Vogue Brasil lamenta profundamente o ocorrido e espera que o debate gerado sirva de aprendizado. Nós acreditamos em ações afirmativas e propositivas e também que a empatia é a melhor alternativa para a construção de uma sociedade mais justa, em que as desigualdades históricas do País sejam debatidas e enfrentadas. Em busca da evolução constante que sempre nos pautou, aproveitamos a reflexão gerada para ampliar as vozes dentro da equipe e criar, em caráter permanente, um fórum formado por ativistas e estudiosos que ajudarão a definir conteúdos e imagens que combatam essas desigualdades".

E antes que a semana se encerasse, a diretora pediu demissão da revista. Outros assuntos vieram à tona, como o adiamento, para março, do baile anual da Vogue, inicialmente agendado para esta semana. Em nota, a revista informou vagamente que o motivo foi "transformar o Baile de Gala da Vogue numa plataforma de inclusão no universo da moda" e que precisa "de tempo hábil para implementar ações importantes e garantir que o baile seja efetivamente um marco deste novo momento". Entretanto, o que de fato parece ter acontecido, segundo Ilka Maria Esteves (site Metrópoles), teria sido pressão dos patrocinadores da festa que "ficaram temerosas em vincular sua imagem à publicação após a situação, principalmente aquelas que apoiam a diversidade em suas campanhas publicitárias".
Sim, o subalternizado pode falar. E diante desta fala, a postura mais consciente, mais respeitosa que aquele se beneficia do racismo estrutural pode assumir, é a de se abrir à escuta, ao esforço de entendimento, ao invés de sair em sua própria defesa.
Fred Lucio é filósofo, antropólogo e cientista social. Professor da ESPM e coordenador da ESPM Social (agência de voluntariado universitário). Autor de Ética empresarial (Alínea, 1996) e co-autor (com Pedro Jaime) de Sociologia das Organizações: conceitos, relatos e casos (Cengage, 2018)
Pedro Jaime é antropólogo e sociólogo, professor do Centro Universitário FEI e da ESPM e autor do livro Executivos negros: racismo e diversidade no mundo empresarial (Edusp, 2016), contemplado com o Prêmio Jabuti em 2017
Camila Aragón é publicitária, especialista em gestão de processos comunicacionais , mestre em Comunicação e bolsista CAPES no mestrado Comunicação e Práticas de Consumo na ESPM.